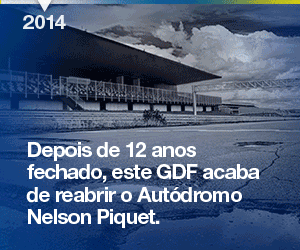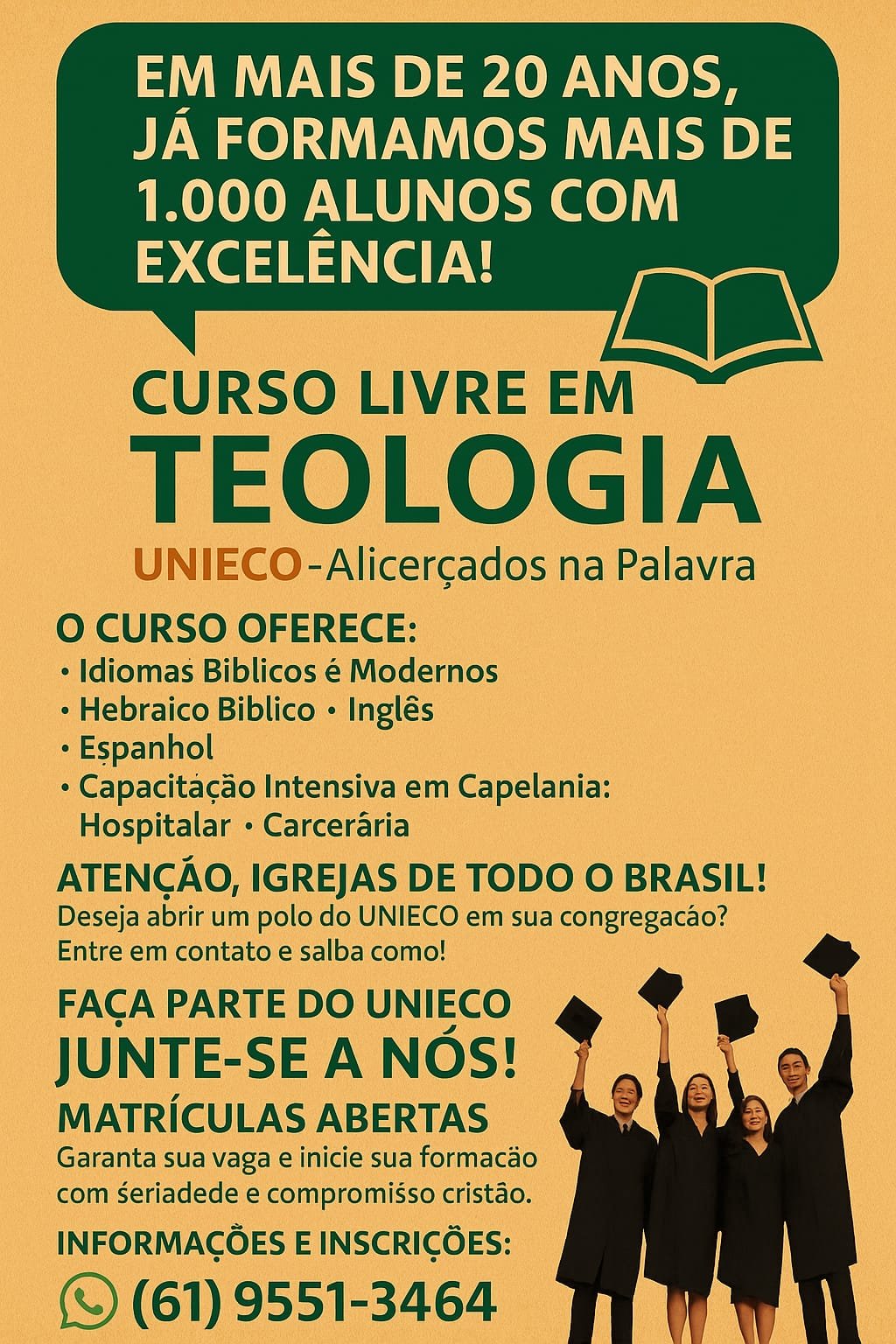*Frutuoso Chaves
Vocês, cujos cabelos o tempo pintou de branco, ou o vento então já carregou, certamente ouviram a expressão relacionada às galinhas e à mesa dos mais pobres: “Quando um pobre come galinha, um dos dois está doente”.
Nos anos de 1950 ou 60, de onde muito de nós provimos, pobre comia mesmo era bacalhau. E não se tratava do peixe seco de hoje em dia, o tal “bacalhau nacional” vendido na maior parte dos supermercados ao custo dos olhos da cara. Era, isto sim, o legítimo, o genuíno bacalhau norueguês que o Brasil importava a preço de banana em barricas de madeira.
Lembro da mercearia do meu pai e do balcão em cima do qual mantas grossas de bacalhau se amontoavam, salgadíssimas, umas sobre as outras. O sal, por si só, já as cozinhava. Podia-se tirar lascas com os dedos e comê-las, caso se quisesse.
As famílias mais abastadas torciam os narizes para aquilo, a não ser por ocasião da Semana Santa quando a fé católica obrigava todo mundo ao consumo de peixes. Comer carne, nessas ocasiões, significaria desrespeitar o padecimento de Cristo.
Mas peixes frescos, naquela época tão desprovida de geladeiras e frigoríficos, era privilégio das cidades litorâneas com o mar à porta. Os moradores do interior contentavam-se, portanto, com as traíras e os curimatãs mirrados de água doce e, à falta disso, com o bacalhau que atravessava mares nos porões de navios.
Sabem aqueles pares indivisíveis feito Romeu e Julieta, Cleópatra e Marco Antonio, Bonnie e Clyde? Pois bem, era assim, de igual modo, com bacalhau e leite de coco. Onde um estivesse estaria o outro.
Por falar nisso, o coco era presença inevitável em cada mesa por ocasião das Semanas Santas. Temperava tudo. Não escapava dele sequer o feijão nosso de cada dia.
E eis que não consigo falar de bacalhau sem lembrar de uma das muitas histórias de José Lins do Rego, o famoso romancista paraibano traduzido em mais de dez idiomas.
Num dos romances do Ciclo da Cana de Açúcar, José Lins narra a insatisfação do grupo de carpinteiros contratados por um dono de engenho sovina para reparos na casa de moenda. Trabalho demorado, de semanas seguidas. E tome bacalhau todo santo dia. Os pobres não mais aguentavam comer aquilo. Não havia água capaz de lhes aplacar a sede. As reclamações chegaram aos ouvidos do dono da casa e, a partir daí, era peru no almoço e na janta.
O tempo passava e, certo dia, alguém abordou um menino que levava nas costas uma carga de urubus. “O que é isso?”. Resposta do moleque: “Perus para os carpinas do coronel”. Bastou os homens saberem disso para ganhar caroços dolorosos no lombo e nas pernas.
“Galinha, ovos e leite”. Que pobre, depauperado, não morria de medo dessa prescrição médica contra a anemia e a fraqueza? Mas são tempos idos, pessoal. O mundo e suas voltas modificaram tudo. Décadas e décadas seguidas de pesca predatória confeririam status ao bacalhau, hoje coisa para os mais ricos, tão raros se tornaram.
Enquanto isso, o mesmo tempo e práticas novas reverteram a situação das galinhas que hoje proliferam em qualquer terreiro e, mais do que isso, em criadouros gigantescos para o abate, a embalagem e a venda em toda e qualquer esquina. A distinta clientela, conforme o bolso, pode adquiri-las por inteiro, ou em pedaços que incluem coxas e sobrecoxas, peito, fígado, coração e pescoço. Ainda bem que, atualmente, médico nenhum receita bacalhau.
*Jornalista profissional com passagens pelos jornais paraibanos A União (Redator e Chefe de Reportagem), Correio (Redator e Editor de Economia), Jornal da Paraíba (Editorialista), O Norte (Editor Geral), O Globo do Rio de Janeiro e Jornal do Commercio do Recife (correspondente na Paraíba, em ambos os casos). Também pelas Revistas A Carta (editada em João Pessoa) e Algomais (no Recife)