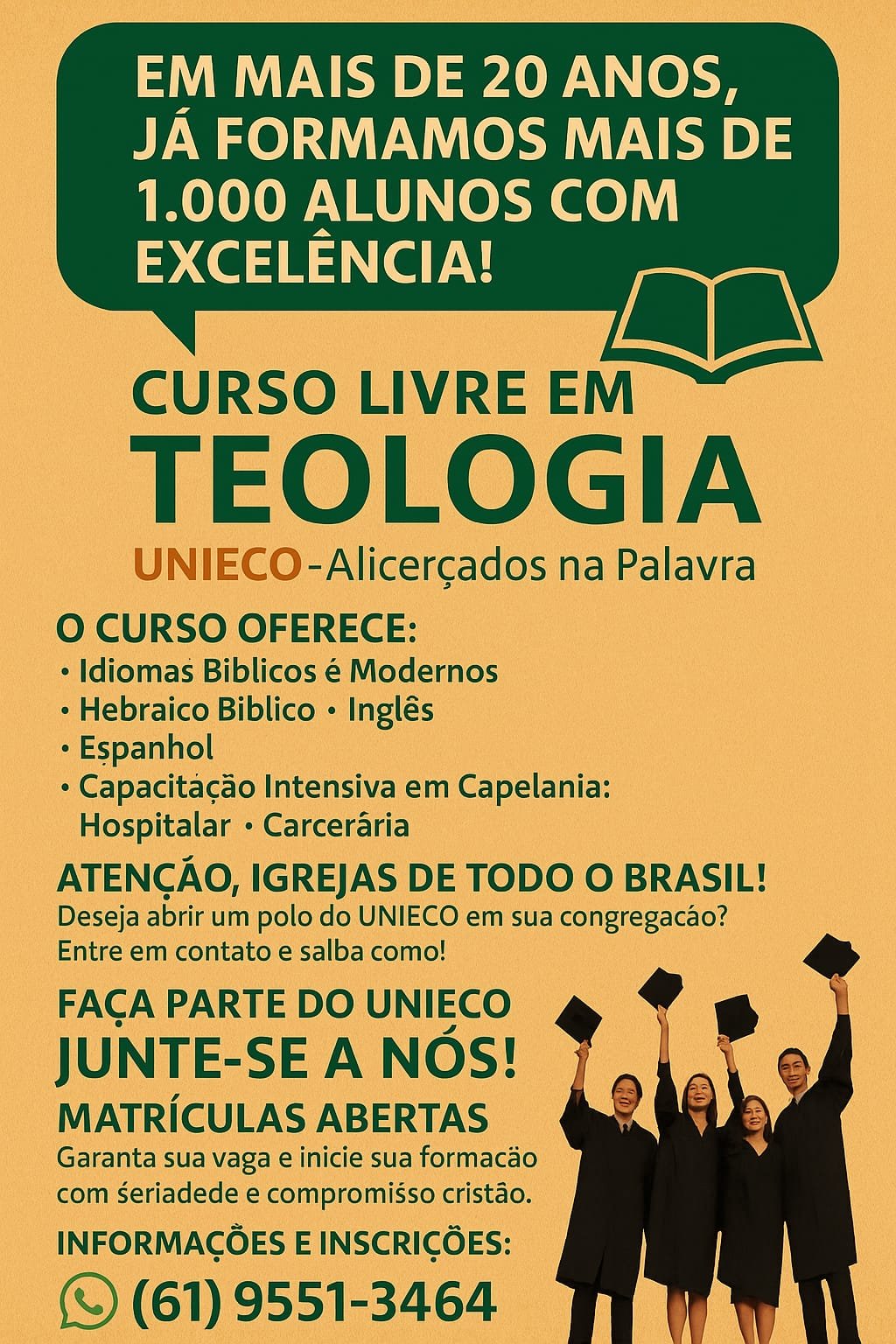(foto: Ana Rayssa/CB)
Foi a indagação sobre a ausência de protagonistas negras no cinema que deu início à carreira da documentarista Edileuza Penha, 55 anos. A hoje também professora na Universidade de Brasília (UnB) é fã da telona desde a juventude, ainda em Vitória (ES). Mas foi no Distrito Federal que decidiu trabalhar diretamente com cinema e ampliar a briga por mais espaços para os negros.
Antes dos anos 80, em uma época que não havia tantas opções para ver filmes, Penha ia do trabalho direto para uma sessão. “Sempre gostei. Cinema sempre foi meu lugar de refúgio. Sou de uma época em que tinha muito cinema na cidade. Que depois, nos anos 80, foram virando igreja, bingo… Enfim… Decadência total”, lembra.
Com o avançar da idade, a professora passou a fazer parte de movimentos de esquerda e de negros, mas percebeu que eles não abrangiam as lutas das mulheres negras. “E eu comecei a me questionar, depois de adulta, por que o cinema, como o maior propagador do amor romântico, não nos contempla? Por que nós, mulheres negras, estamos fora das histórias de amor?”
Ainda na militância, Penha se mudou para Brasília, em 2005, para trabalhar com a complementação da lei que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira dentro das disciplinas que já fazem parte das grades curriculares dos ensinos fundamental e médio. O artigo também estabeleceu 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra no calendário escolar.
No ano seguinte, uma amiga da professora sugeriu que ela escrevesse um livro sobre a questão racial no cinema e a dificuldade de trabalhar com o assunto em sala de aula. “Acho que a maior reclamação dos professores é sobre não ter material”, conta.
Na visão da docente, o professor sai da universidade sem o preparo necessário e, quando o assunto são os negros, a situação é ainda pior. “Se pararmos para pensar, a Lei nº 10. 639 (ensino de história e cultura afro-brasileiras) é de 2003, tem 16 anos, e a UnB, que é a primeira federal a adotar cotas (raciais), até hoje não tem nenhuma disciplina voltada para a questão racial obrigatória”, reclama.
“No entanto, para Libras, que é uma lei de 2012, existe obrigatoriedade na UnB. Eu não estou dizendo que a gente não tem que estudar Libras, a gente tem que estudar, sim. O professor tem que estar preparado para tudo. Lidar com qualquer tipo de deficiência. Mas eu não estou falando de deficiência, e, sim, de mais da metade da população brasileira”, acrescenta.
Carreira de documentarista
Após três volumes do livro Negritude, Cinema e Educação (2006/07/14), Penha começou a receber convites para falar sobre cinema, mas recusava. “Eu só gostava de cinema. Minha relação com cinema era de só de ir e gostar”, diz.
Mas foi um relato de uma leitora no Pátio Brasil, em 2007, que fez a professora mudar de ideia. “A moça me disse que tinha enxergado coisa que nunca tinha visto em um filme assistido 50 vezes. Ela disse que chorou tanto que estragou o livro”, relata.
Naquele mesmo dia, Penha voltou a receber um outro convite para falar sobre cinema e quase recusou como fez em outras diversas oportunidades. “Mas eu pensei que não podia ouvir o que tinha escutado e me fingir de morta. Foi isso que me levou a estudar cinema”, afirma ela que, em seguida, fez mestrado e doutorado na área.
No doutorado, foi para Cuba estudar documentário e, então, produziu o que é considerado por ela o primeiro trabalho profissional: Mulheres de Barro. “Desde sempre, eu não queria mostrar história de dor. Ouvir mulheres negras e mais velhas, sobretudo, é ouvir muitas histórias de dor. Mas eu acho que tem muita dor no mundo. Eu quero falar de amor. Esse é o lugar no cinema que eu tenho buscado e que eu quero no cinema. Eu quero falar dos meus, mas quero falar de amor”, conta.
Edileuza lançará em breve o 6º documentário da carreira, que contará a história de mulheres que romperam a “tradição” familiar. “O documentário Filha de Lavadeira é inspirado em um livro que conta história de mulheres que as mães e as avós foram lavadeiras ou cozinheiras e elas romperam essa predestinação para serem o que quiserem”, antecipa.
Cotas raciais
A professora é defensora das cotas raciais em universidades. “Quando eu estava na universidade, era eu e mais nove em toda a instituição. Se cota não serve para nada, ela serve para dar visibilidade. Porque é muito importante você ter os seus pares. Em toda minha trajetória na universidade, eu contava (os negros) com as mãos. No mestrado, eu era única; no doutorado, era única. Então, esse lugar de solidão não é bom”, desabafa.
Para a professora, na UnB, o número de estudantes negros ainda é baixo. “Mas é significativo a gente ver aquela meninada pelos corredores com os seus cabelos, com suas roupas, com o seu jeito…”, diz. “Nós não queremos a substituição dos negros por brancos. Nós queremos igualdade, estar em todos os lugares”, completa.
A professora defende uma maior visibilidade para os negros e reclama de situações discriminatórias, como ser questionada ao abrir a porta de casa no Plano Piloto ou de alguém perguntar pela professora mesmo com ela em frente ao quadro-negro e com o giz na mão. “As pessoas enxergam que aquele corpo não pode ser dono da casa ou professor.”
“O Brasil é um dos países mais racistas do mundo. A desigualdade nesse país tem cor. Assim como tem gênero. São as mulheres negras e mais pobres”, afirma. No entanto, ela vê boas perspectivas para o futuro e uma mudança. “Eu acho que tem jeito. Que a geração dos meus filhos e dos meus netos vão desfrutar de um outro país”, acredita.
Especial
Para marcar o Mês da Consciência Negra, a série Histórias de consciência é publicada ao longo de novembro e presta homenagem a mulheres e homens negros que ajudam a construir uma Brasília justa, tolerante e plural. Todos os perfis deste especial e outras matérias sobre o tema podem ser lidos no site www.correiobraziliense.com.br/historiasdeconsciencia.