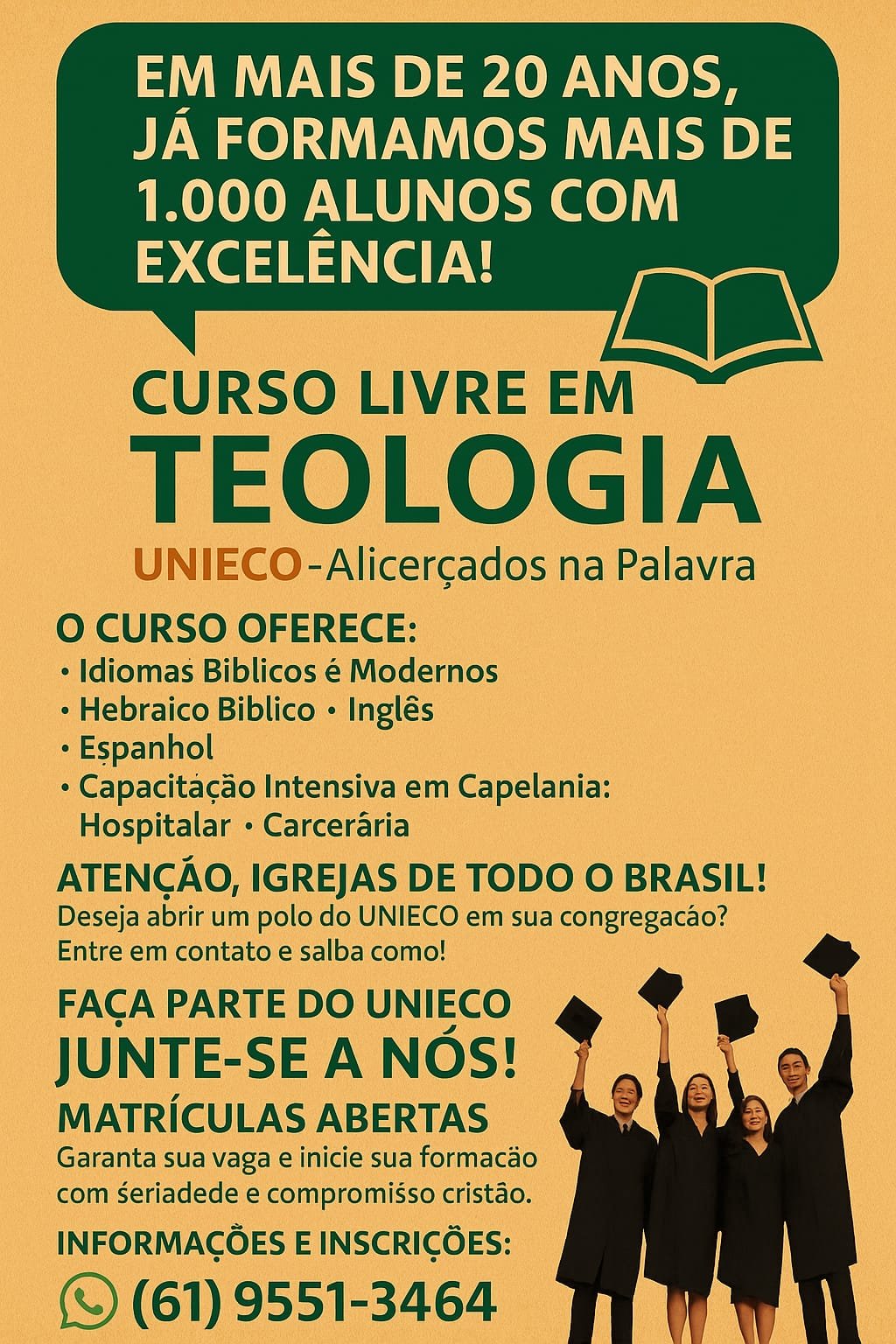Miguel Lucena
A decisão do ministro Alexandre de Moraes, ao anular a votação da Câmara dos Deputados que rejeitou a cassação da deputada Carla Zambelli, recoloca as coisas no seu devido lugar: há momentos em que o Parlamento não decide, apenas declara. E essa diferença, que parece sutil, é determinante no regime constitucional brasileiro.
O artigo 55, inciso VI, da Constituição é cristalino ao prever que perderá o mandato o parlamentar condenado criminalmente com trânsito em julgado. O verbo utilizado — perderá — não abre margem para deliberação política. Mais adiante, o §3º do mesmo artigo fecha a questão: a Mesa da Casa deve apenas declarar a perda do mandato, de ofício ou mediante provocação. Não é faculdade. É dever vinculado.
Portanto, quando a Câmara submeteu a cassação à votação plenária, com ênfase política e cálculo corporativo, avançou sobre competência que não lhe pertence. A Constituição distingue nitidamente os casos em que o Plenário decide (como nos incisos III, IV e V do art. 55, sujeitos ao §2º) daqueles em que o efeito é automático, decorrente da sentença penal definitiva. No inciso VI, não há juízo político possível. A Câmara não substitui o Judiciário, nem pode “negar” um efeito legal de condenação criminal.
O Supremo Tribunal Federal há muito consolidou essa compreensão. Em julgados como o MS 26.602 e a ADI 5.526, estabeleceu-se que a perda do mandato parlamentar, em hipóteses de condenação penal definitiva, opera-se “ipso iure”. Ou seja: consumada a condenação, o mandato deixa de existir, independentemente de qualquer ato constitutivo da Câmara. A Mesa apenas formaliza o que já se produziu juridicamente.
No caso concreto, a votação anulada era inconstitucional por duas razões evidentes:
usurpação da competência do Poder Judiciário, que já havia decidido e transitado em julgado;
violação direta do art. 55, §3º, ao criar uma etapa política onde a Constituição determinou um ato administrativo vinculado.
A decisão de Moraes, portanto, não “interfere” no Legislativo — apenas impede que o Legislativo interfira onde não pode. O ministro restabelece a ordem jurídica: declara nulo o ato inconstitucional e determina que a Mesa cumpra o que deveria ter cumprido desde o início.
Este episódio revela mais que uma disputa institucional. Mostra que a Constituição ainda exige leitura atenta, especialmente quando tenta-se, pela via política, neutralizar efeitos jurídicos que foram escritos justamente para proteger a República de casuísmos. Quando o Legislativo tenta transformar em “votação” aquilo que a Constituição definiu como ato obrigatório, abre-se espaço para o arbítrio. O Supremo, ao corrigir o desvio, reafirma que a lei é maior que as conveniências eleitorais.
Assim, a perda do mandato não é uma punição escolhida pelo Parlamento, mas uma consequência constitucional da sentença penal. Quem decide é o Judiciário; quem declara é a Mesa. Quando cada Poder ocupa seu espaço, a democracia respira. Quando não, o STF precisa lembrar que a Constituição ainda está em vigor.