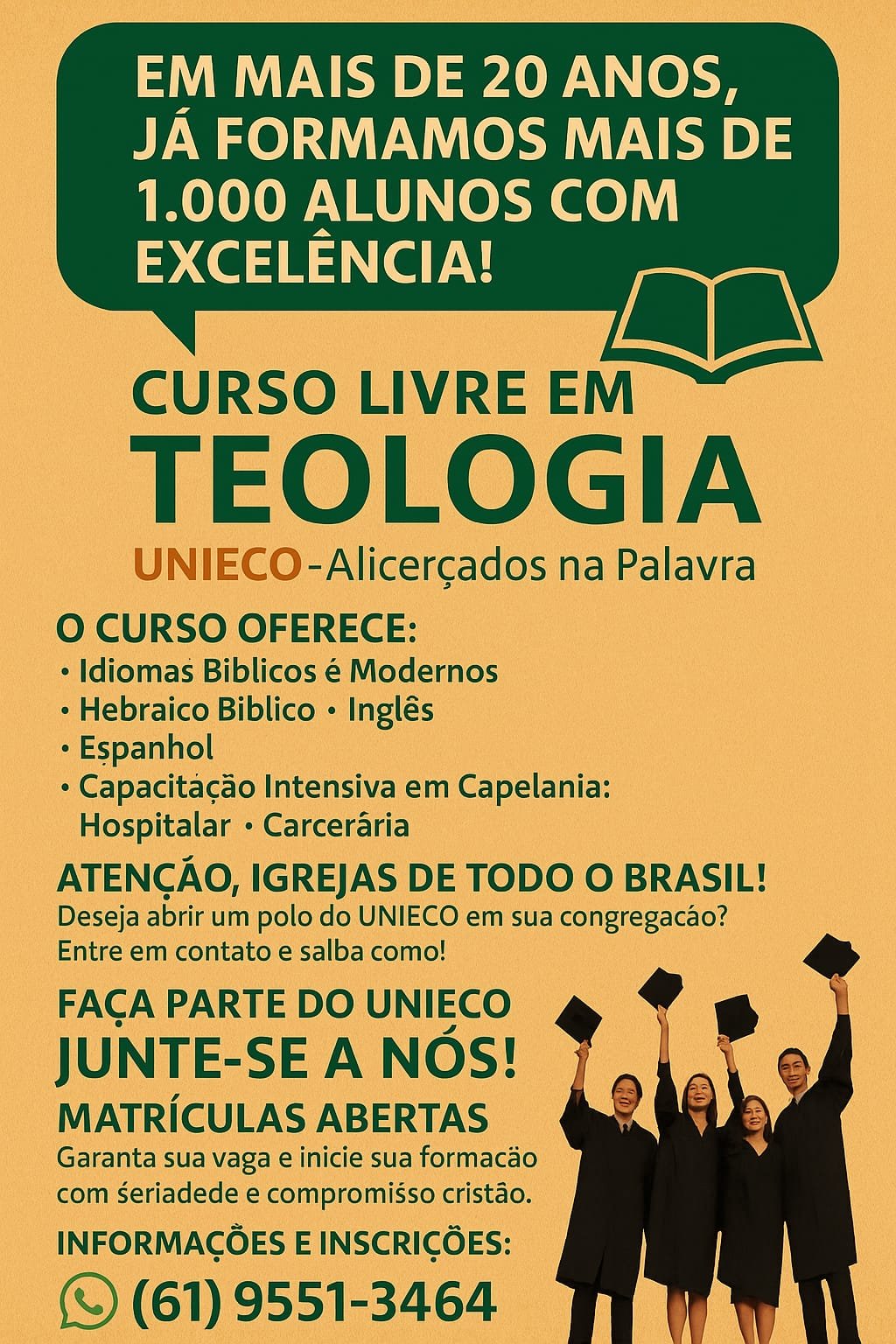Miguel Lucena
Era uma vez um lugar chamado Gaza.
De dia, o sol queimava o deserto; à noite, as crianças dormiam com o barulho do mar e das bombas — e já não sabiam mais distinguir um do outro. O sal que vinha do Mediterrâneo se misturava ao sal das lágrimas, e o vento levava poeira, preces e destroços.
Havia em Gaza mercados onde o pão era dividido como bênção, e ruas estreitas cheias de risos, pombos e roupas estendidas entre as janelas. Era ali que o cotidiano teimava em existir, mesmo quando o céu se tornava uma armadilha. As mães ainda penteavam o cabelo das filhas, os meninos ainda jogavam bola entre escombros, e os velhos contavam histórias de oliveiras que davam sombra e azeite — antes que o fogo devorasse tudo.
Mas vieram os dias em que o barulho das bombas abafou o chamado do muezim. O cheiro do pão cedeu lugar ao cheiro da pólvora. A casa virou ruína, o hospital virou cemitério, e a escola virou lembrança. Gaza passou a caber numa tela de celular, entre o espanto e a indiferença do mundo.
Ainda assim, no coração de alguém, Gaza resiste. Talvez em uma menina que desenha o sol num pedaço de muro, ou em um pai que insiste em ensinar a palavra “esperança” entre sirenes. Porque há algo que nem o míssil mais preciso consegue destruir: a ideia de que o ser humano nasceu para construir, não para apagar o outro do mapa.
E quando a poeira baixar — porque ela sempre baixa —, talvez alguém encontre entre os escombros um brinquedo, um livro, uma fotografia, e diga: “Aqui havia vida.”
E então Gaza deixará de ser apenas manchete, para voltar a ser o que sempre foi — um lar.