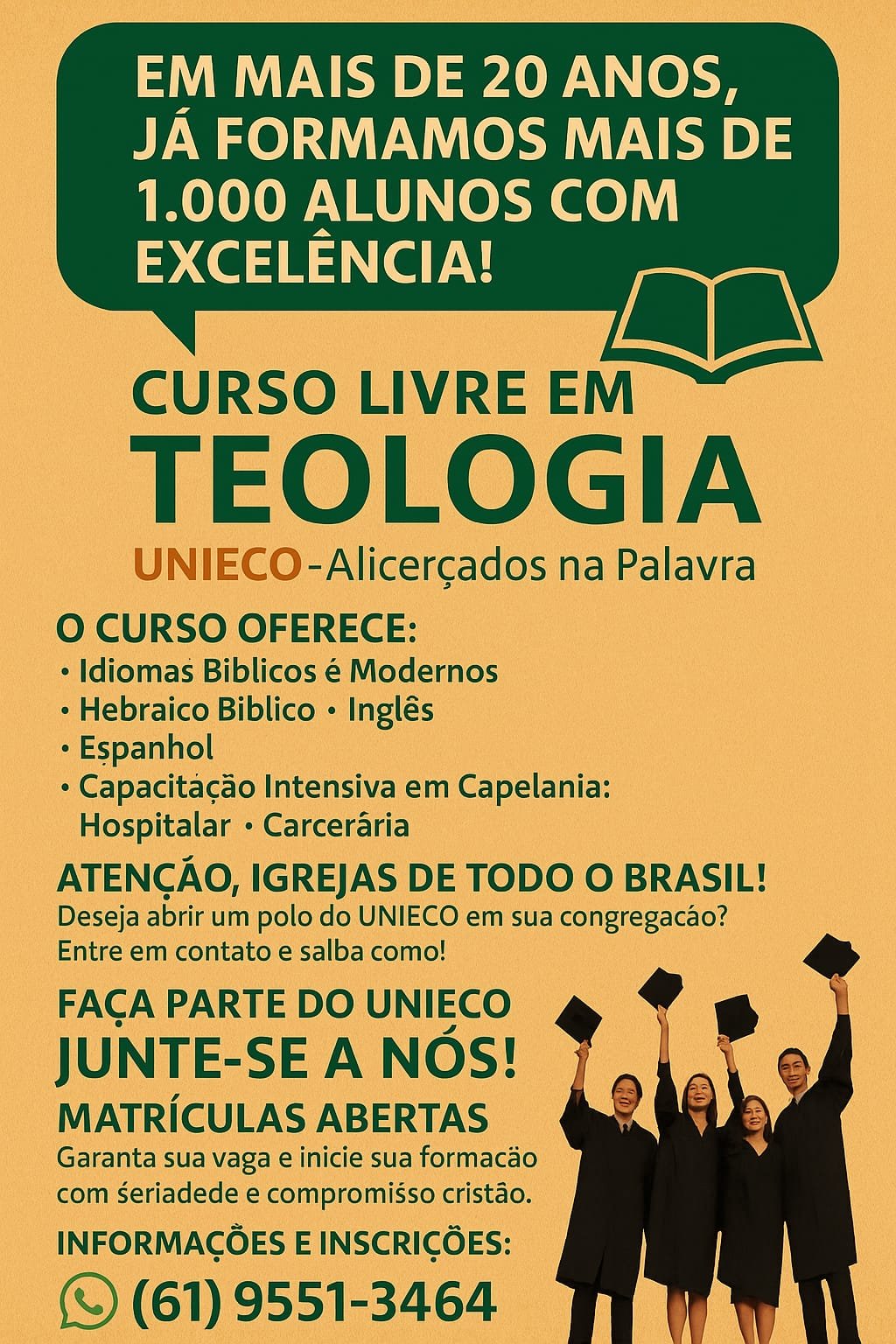No Brasil dos anos 1980 e início da década de 1990, era comum fazer compra de mercado para o mês todo logo que se recebia o salário, pois se sabia que o montante recebido iria perdendo valor dia após dia, corroído pela inflação.
Embora a inflação esteja de volta por aqui, com preços subindo nas gôndolas semana após semana, a situação ainda não se compara àquela vivida na Argentina, onde a inflação acumulada em 12 meses chegou a 52,1%, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).
Tirando a hiperinflação da Venezuela — estimada em 2.700% ao ano em 2021 pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) —, a inflação da Argentina é de longe a mais alta da região.
A terceira maior economia da América Latina tem uma inflação que é quase cinco vezes a da maior economia regional, a do Brasil (10,7%), e mais de oito vezes a da segunda maior, a do México (6,2%), de acordo com os indicadores oficiais para outubro.
Ter custos que aumentam 1% a cada semana, em média, pulveriza a renda dos argentinos e é um dos principais motivos da disparada da pobreza, que hoje atinge entre 42% e 50% da população, segundo números oficiais.
Viver com inflação alta não é novidade para os argentinos. Embora uma inflação mensal próxima a 4% seja enorme, o país teve aumentos de preços muito mais vertiginosos nos últimos 50 anos.
O pior momento foi a hiperinflação de 1989, quando os preços subiram mais de 3.000%, levando à queda do governo de Raúl Alfonsín, que havia assumido após o retorno da democracia e da adoção do peso, moeda usada até hoje.
A título de comparação, naquele ano, a inflação brasileira subiu 1.973% e chegaria a 2.477% em seu pior momento, em 1993 — ano que antecedeu o Plano Real, que finalmente daria fim à hiperinflação por aqui.
Na década de 1990, a chamada “conversibilidade” — que atrelou o peso argentino ao dólar — fez com que a inflação desaparecesse.
Mas isso acabou catastroficamente com o corralito (que em espanhol significa cercadinho) em dezembro de 2001, que determinou o congelamento dos depósitos bancários e limites semanais para retiradas, o que acabou gerando violentos protestos e a renúncia do presidente Fernando De la Rúa.
A crise econômica e política do início deste século reabriu o ciclo inflacionário, que voltou a se acelerar durante o segundo governo de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015), e superou a barreira dos 50% ao final do mandato de Mauricio Macri (2015-2019).

Embora a desaceleração da economia em 2020, devido à pandemia do coronavírus, tenha reduzido a inflação argentina a 36%, neste ano ela voltou a uma taxa acumulada em 12 meses de 52%.
E muitos economistas preveem que, em 2022, a inflação no país será ainda maior.
Por que tão alta
Mas por que a Argentina tem esse problema há tanto tempo e de forma tão mais grave do que os demais países da região?
Os economistas ortodoxos garantem que a razão subjacente é simples: o país sistematicamente gasta mais do que deveria.
As estatísticas mostram isso com clareza: nos últimos 60 anos, foram apenas seis anos sem déficit fiscal (entre 2003 e 2008, quando os preços internacionais das matérias-primas foram recordes, gerando um grande aumento na arrecadação).
E não é que a Argentina tenha poucos impostos, muito pelo contrário: segundo o Banco Mundial, é um dos países com maior carga tributária sobre a economia formal do mundo.
Mas como, mesmo assim, a arrecadação não é suficiente para manter os gastos públicos, sucessivos governos têm recorrido a duas ferramentas para se financiarem: o endividamento e a emissão monetária.
O primeiro levou a Argentina ao calote — ou ao default de sua dívida — nove vezes, o que prejudicou sua capacidade de obter empréstimos a taxas semelhantes às pagas por seus vizinhos.
Essa limitação tornou o país cada vez mais dependente da segunda opção para manter a carteira volumosa do Estado: a impressão de cédulas (ou o que os economistas chamam de “política monetária expansionista”).
É essa emissão que, segundo a visão ortodoxa, gera inflação.

O atual ciclo inflacionário
Marina Dal Poggetto, diretora executiva da consultoria econômica EcoGo, explica por que hoje a Argentina é o único país da região — exceto a Venezuela — que tem um problema de inflação tão alta.
“Na década de 1980, vários países latino-americanos sofreram crises inflacionárias, e, na década de 1990, todos entraram em processos de desinflação, incluindo a Argentina”, diz.
Mas, no início deste século, “ao contrário do resto, a Argentina perdeu uma oportunidade sem precedentes de construir uma moeda e manter as taxas de inflação baixas”.
“Todo o resto da região aproveitou o cenário global de desvalorização do dólar e os altos preços das commodities que a economia latino-americana experimentou nos anos 2000 para atar suas moedas a taxas de juros positivas. Foi assim que valorizaram e construíram suas moedas”, afirma.
“Mas a Argentina, que vinha da crise de 2001, tinha sistematicamente uma taxa de juros que era a metade da taxa de inflação.”
O governo de Néstor Kirchner (2003-2007) “priorizou o curto prazo” e manteve o peso barato para torná-lo mais competitivo, o que permitiu ao país crescer “a taxas chinesas” (muito altas) por alguns anos.
Com esse superávit fiscal sem precedentes, diz Dal Poggetto, “o governo Kirchner entrou em um cenário de políticas muito expansionistas, com uma política agressiva de distribuição de renda”.
Apesar de a alta de preços da soja ter desacelerado quando sua esposa e sucessora, a atual vice-presidente Cristina Kirchner (2007-2015), tomou posse e “os dólares acabaram”, o governo continuou a expandir seus gastos, e, em 2009, a Argentina mais uma vez voltou a ter suas contas no vermelho.
Durante o kirchnerismo, o salário real subiu 50%, e incorporaram-se 3 milhões de aposentados (dobrando o número total) que não haviam feito as contribuições correspondentes, algo “insustentável”, segundo a economista.
“Embora a arrecadação tenha crescido de 19% para 34% do Produto Interno Bruto (PIB), com as políticas fiscais expansionistas do kirchnerismo, o gasto público passou de 25% para 41% do PIB”, afirma.
Isso gerou “uma deterioração muito grande da macroeconomia”, com uma taxa de câmbio defasada e uma inflação que atingiu dois dígitos em 2006, desencadeando o processo inflacionário que continua até hoje.

O único governo não kirchnerista que a Argentina teve durante este século — o de Mauricio Macri (2015-2019), que chegou ao poder em grande parte devido ao descontentamento popular com o aumento da inflação — manteve altos gastos do Estado durante os primeiros dois anos, mas em vez de imprimir dinheiro, foi financiado pela emissão de dívida.
Isso conseguiu desacelerar brevemente a inflação em 2017. Mas os fundos de investimento estrangeiros que compraram grande parte dos papéis emitidos pela Macri, atraídos pelos juros altíssimos, acabariam gerando uma grave crise econômica.
Uma corrida cambial em 2018 levou a uma “megavalorização” do peso, que foi automaticamente repassada aos preços. A inflação duplicou em um único ano, chegando a quase 48%.
Macri perdeu as eleições de 2019 e terminou o mandato com a maior inflação das últimas duas décadas: 53,83%.
Além disso, deixou a Argentina em uma nova crise de dívida, após ter negociado com o FMI o maior empréstimo de sua história — que não chegou em sua totalidade, mas que voltou a deixar o país com um pesado fardo, e que, se não for negociada com sucesso, pode resultar em um novo calote.
Como se tudo isso não bastasse, em março de 2020, chegou a pandemia.
Sem acesso a crédito, o novo governo de Alberto Fernández teve que apelar para mais emissão de moeda para aliviar a crise sanitária e econômica.
Mas sua decisão de impor uma das quarentenas mais longas do mundo obrigou o Banco Central a imprimir um número recorde de notas, o que representa pressão inflacionária extra.
O problema do dólar
Além de uma emissão monetária elevada, a Argentina tem outra peculiaridade que influencia a alta dos preços.
O fato de ter uma moeda em constante desvalorização e taxas de juros em pesos historicamente abaixo da inflação fez com que os argentinos economizassem e pensassem em dólares.

Mas, como a Argentina não gera verdinhas suficientes para atender à demanda, os governos aplicam controles de capital, conhecidos localmente como “armadilhas cambiais”.
Isso gera outro fenômeno que pressiona a inflação: a chamada “brecha” cambial.
Por não conseguirem comprar dólares no mercado oficial — que além de ser restrito a US$ 200 (R$ 1.086) por pessoa ao mês, têm taxas que hoje chegam a 65% — empresas e poupadores recorrem aos mercados paralelos, o mais famoso deles é o informal, chamado localmente de “dólar blue”.
Diante da desconfiança gerada pelo peso, o preço do “dólar blue” é considerado por muitos argentinos como referência na hora de realizar transações, como aluguel ou compra de suprimentos para construção, produtos eletrônicos ou automóveis.
Por isso, quando o preço desse dólar de mercado está bem acima do dólar oficial — como agora, quando a diferença entre um e outro chega a 100% — isso leva a um aumento de alguns preços em pesos, e gera uma sensação de que a moeda local está desvalorizada.
Isso, apesar de que, como afirma Dal Poggetto, “há muitos preços na economia que estão a um dólar mais parecido com o oficial do que com o blue”.
“Se desvalorizassem o dólar oficial, a inflação ficaria muito maior”, alerta.
Monopólios
Mas o governo e os economistas heterodoxos estão convencidos de que não é nem a questão monetária nem o hiato da taxa de câmbio que levam à alta dos preços, mas sim os “grupos concentrados de poder”.
“A inflação é multicausal, mas um dos principais fatores é que você concentrou setores da economia, principalmente na produção e distribuição de alimentos, que têm capacidade de fixar preços”, diz Alan Cibils, pesquisador e professor da Área de Economia Política da Universidade Nacional General Sarmiento (UNGS).
“Esses setores dão retorno em dólares, porque a maioria é estrangeira. Então, eles querem poder remeter dólares independente do tipo de câmbio”, afirma.
“Eles fixam os preços em pesos, porque podem, e isso contribui fortemente para a inflação.”

Seguindo a mesma linha de pensamento, o governo de Alberto Fernández restringiu as exportações de carnes para que o preço local caísse, medida que o kichnerismo já havia adotado no passado e que levou à redução da produção pecuária.
Poucos dias antes das eleições legislativas de 14 de novembro, o governo também recorreu a outra ferramenta utilizada durante o governo de Cristina Kirchner: o congelamento de preços.
O Ministério do Comércio Interno emitiu uma resolução ao final de outubro que estabelece a “fixação de preços máximos” para mais de 1,4 mil produtos de consumo de massa até janeiro de 2022.
Embora ambas as medidas tenham sido duramente criticadas pela oposição, o chefe do governo da cidade de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, considerado o sucessor político de Macri, concordou que os setores concentrados da economia são parte do problema inflacionário.
“Temos que ir pra cima dos monopólios para que haja competição real, os monopólios não ajudam a baixar a inflação”, disse ele em declarações à rádio Urbana Play.
Uma roda que não para
Mas, para além das discussões sobre o que causa a inflação na Argentina, há algo em que todos parecem concordar: é um processo muito difícil de frear.
O grande problema, eles apontam, é a inércia inflacionária, que faz com que todos estabeleçam preços com base na inflação passada.
De acordo com relatório da consultoria EconViews, “pelo menos 40% do núcleo da inflação de um mês é explicado pela inflação do mês anterior”.
“Eles tendem a indexar contratos, aluguéis. Os sindicatos negociam reajustes anuais de salários”, exemplifica Cibils.
“Tem gente que aumenta os preços todo mês em ‘xis’ por cento por precaução. Como você não sabe o que vai acontecer, você se protege na medida do possível”, explica.

São esses comportamentos “inerciais” que fazem com que a inflação “se auto propague”, diz ele.
Como interromper esse ciclo vicioso?
Para o governo e para quem tem uma visão heterodoxa: com mais intervenção do Estado.
Já organizações como o FMI e muitos economistas, como Dal Poggetto, acreditam que a solução é corrigir o problema subjacente. Ou seja, reduzir os gastos.
A questão é como fazer isso sem prejudicar ainda mais uma população já abatida e sem gerar as crises de governabilidade vividas em outros países que tentaram ajustar gastos, como Colômbia e Equador, afirma.
“Sempre digo que o problema é que todos concordamos que o gasto deve ser reduzido, mas todos concordamos que o outro deve fazer o ajuste.” (BBC)